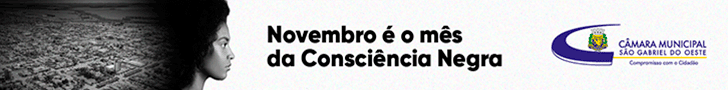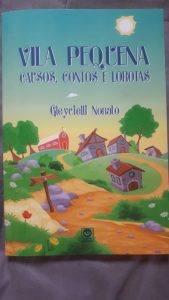Três artistas indígenas: Gleicyelli Nonato, escritora Guató, 35 anos; Ismael Morel, 41 anos, conhecido como Ismael Kaiowá, professor de dança e Beni Kadiweu Examelexe, 34 anos, artesã e designer, falam sobre ser artista indígena e propagar a arte da resistência no Estado de Mato Grosso do Sul, cuja população indígena soma 80.459 habitantes, presentes em 29 municípios (Sesai/MS).
Gleicyelli Nonato começou a escrever ainda criança. Escrevia poesias, pequenos textos para o grupo de teatro da escola, até participar de concursos de redação e poesia em sua cidade. A escritora é de Coxim MS, originária do Povo Guató do Pantanal: “um povo nômade que vivia espalhado pelos onze pantanais. Mas quando suas terras se viram invadidas pelos fazendeiros e seus gados, eles se viram obrigados a tomar dois rumos: as periferias de Corumbá e Ladário, ou tornar-se peões, e trabalhar nas terras que um dia fora nossas”.
E assim foi com a família da Gleicyelli que subiu o rio Taquari em busca de emprego em fazendas do Pantanal para se sustentar. “Até porque os Guatós foram considerados extintos e é recente esse processo de retomada do direito de existir. Muita coisa mudou, mudamos nosso conceito social e até religioso por causa disso. Nós não nos organizávamos em aldeias, éramos nômades e vivíamos em famílias nucleares, hoje temos que ter aldeia. Nós não tínhamos Cacique e Pajé, a palavra era discutida em família, e a mulher mais velha da família discutia com a mulher mais velha de outra família para chegar num consenso. Hoje nós temos cacique e Pajé. O povo Guató teve que mudar a sua estrutura sócio política para não morrer”, explica a escritora.
Gleicyelli é de uma família pantaneira, indígenas que tiveram que aprender a lidar com o gado para sustentar a família. “Minha mãe foi a primeira a ter ensino superior na família e por isso que hoje eu e meus irmãos temos estudo. Sou acadêmica de Letras na UFMS Campus de Coxim”.
A artista das palavras escreve em português, pois a língua guató foi extinta, mas usa algumas palavras desta língua do seu povo em seus textos. Tem dois livros publicados: “Índia do rio” poesias de 2013 e “Vila Pequena”, causos, contos e lorotas, de 2017. Ela faz de sua escrita, palestras, conversas e contrações de histórias, uma maneira de semear a cultura Guató, e não permitir que seja apagada novamente.
“Ser escritora indígena é uma responsabilidade muito grande. Porque representatividade importa e essa representatividade cultural precisa vir com a certeza de que está no caminho certo. Pois tudo que se refere a ser indígena já vem com o peso dos moldes sociais que fazem de nós: mulher selvagem (sexualizada), romantizada, ou incapacitada, mas nunca como intelectual. Ser escritora indígena é ter que passar o tempo todo se afirmando como intelectual, e capaz de escrever o que quiser sem os pré-conceitos estabelecidos à nossa imagem. Mas eu, particularmente, me instigo a conquistas maiores justamente porque sou Guató, sou guerreira, eu sei que posso chegar lá e levar comigo minha ancestralidade”.
Outro artista indígena é Ismael Morel, da etnia Guarani Kaiowá. É amante da arte, da cultura e principalmente da cultura indígena, em especial a do seu povo Guarani-Kaiowá. Ismael conta que montou um grupo de dança na escola onde dá aulas porque se revoltou com a aculturação que seu povo vem sofrendo.
“Sofremos aculturação violenta da sociedade durante todo esse tempo e fomos deixando a tradição cultural guarani-kaiowá meio de lado, e isso me incomodava muito, percebia a juventude indígena meio perdida, sem rumo, sem identidade. Fomos envolvidos por outras culturas, outras crenças, outras religiões, seguimos a vida tentando sempre acompanhar a outra sociedade sem valorizar a nossa. Revoltei-me contra tudo isso na minha adolescência, e comecei a exercer a minha liderança propondo dançar, cantar, praticar esporte e estudar a nossa cultura”.
Ismael foi embora da sua aldeia Guapoy (município de Amambai) para estudar, cursou Educacao Física, se graduou em 2004, retornou à aldeia e formou o primeiro grupo de dança na escola onde trabalha, a Escola Municipal Polo Indígena Mbo’e roy Guarani-Kaiowá. “Formei o primeiro grupo de dança indígena, foi meio que uma bomba na aldeia, todos surpresos, virei notícia na aldeia e na cidade”.
Ele diz que a alegria do seu povo é notada nas danças, na contagiante entonação dos cânticos, na preparação das bebidas tradicionais, na preparação das festas. “Para o nosso povo tudo é sagrado, e mesmo com a interferências de crenças alheias, carregamos o DNA da dança, alegre quando há alegria, melódico e triste quando há tristeza. Em rodas para dançar o Guachire (dança da alegria, com versos simples, estilo repente) seja atrás dos Nanderu, posicionados ao lado das Nandesy nos cantos sagrados para batismos de crianças, da roça, nos rituais de cura”.
O professor de Educação Física diz que demorou para entender qual era sua função na sua aldeia, pois ao mesmo tempo em que sente ser de lá, sente também que não. “Formei-me em Educação Física por acaso, meu sonho era ser médico, mas descobri na disciplina de Educação Física uma ferramenta para revitalizar e fortalecer a prática cultural do meu povo, seja no esporte ou na dança”, afirma hoje, convicto.
Convicção semelhante possui a designer Beni Kadiweu Examelexe, que começou na arte desde muito pequena, com incentivo do seu avô: “Meu vô sempre vinha pra cidade, ficava entre cidade e aldeia, então ele ficava vendo essas coisas mais contemporâneas aqui fora. Eu nunca fui de fazer a cerâmica Kadwéu, mas eu fiz outras coisas, como por exemplo tranças, fibras de caraguatá, tecelagem, mais essas coisas de algodão. O indígena em si tem a arte, já vem com esse dom, mas é preciso um incentivo por parte da família pra ele conseguir produzir essas coisas. Tem a arte tradicional e a arte contemporânea, eu sempre tive as duas coisas e sempre acompanhando meus avós, sempre tive muito contato com a natureza, eles sempre me mostraram que tem uma árvore que solta uma tinta que produz a resina, que é a árvore do palo santo, então eu sempre tive esse contato bem próximo com a natureza e dela retirar o suficiente e transformar em arte”.
Beni conta que percebeu que eu tinha algo diferente, um dom, porque ela via que as coisas que fazia eram muito diferentes. “Quando eu comecei a mexer com barro, argila e pigmentos, eu percebi que a forma que eu fazia as cerâmicas era diferente, eu não consigo fazer um vaso grande mas eu fazia uma escultura. Eles na roda, lá na aldeia Alves de Barros, percebiam que era diferente”.

“A primeira ideia de representar meu povo foi tentar passar pra sociedade em geral o que é ser Kadwéu, quem foram os kadwéus, quem são. Eu estudei na cidade desde o quinto ano do Ensino Fundamental, então eu via muito essa falta de conhecimento até mesmo dos professores. No livro didático tinha aquele indiozinho com peninha na cabeça e tanguinha, então isso ficou marcado na História do Brasil. Mas agora isso está mudando, a gente já começa a ver a diferença. Nunca foi contato o que realmente é o índio, estou falando especificamente do povo Kadwéu. Eu moro numa cidade que fica próxima à minha aldeia, que é um município pequeno, as pessoas aqui não conhecem a realidade e isso não é diferente no Estado inteiro. Nem todo indígena usa o cocar na cabeça, tem o significado usar o cocar, não é qualquer pessoa que pode usar, tem que ser um líder, um pajé”.
“No mundo acreditam que nós somos todos iguais na cultura, mas existem as especificidades de cada povo, então eu quis mesmo levar junto comigo,uma verdadeira história do povo e fazer a defesa do povo Kadwéu contra a exploração. No artesanato tem muito isso, tem o atravessador. O artesanato lá fora é muito valioso. Desde pequena sempre tive esse pensamento: eu vou estudar e fazer alguma coisa para defender o povo. A gente conseguiu ter um avanço aí de 50%. As coisas estão mudando. Esses dias eu fui na casa de uma menina que mora aqui na cidade, de uma menininha kadwéu, e ela mostrou o livro. Então no livro didático de séries iniciais já está lá a arte Kadiwéu, então eu fiquei muito feliz de ver este livro didático, de ver essa valorização e reconhecimento da arte Kadiwéu. São muitos indígenas no Brasil que estão com essa missão, não sou só eu. Cada indígena defendendo seu povo”.
Beni se sente reconhecida hoje pela sua arte, pelo fato de as pessoas a consultarem antes de “fazer as coisas”. “Hoje em dia, como artista indígena, eu me sinto reconhecida porque muitas pessoas me consultam antes, às vezes mandam mensagem: ‘pode fazer isso, não vai ser uma ofensa?’ Isso é ser artista indígena, você ver que você conseguiu implantar na cabeça das pessoas o que pode e o que não pode, então as pessoas acabam consultando, essa palavra consultar é muito importante para nós, a partir daí você vê que recebeu esse reconhecimento. E ter um nível superior ajuda muito. Vale muito a pena, fui bolsista pela UCDB para o curso de Design, tive apoio do Programa Rede de Saberes”.
“E também muitos convites, que têm pró-labore, que não vai ser exploração, que você vai estar levando pra escola uma aula, fazendo um planejamento, os órgãos públicos, escolas particulares, estão se abrindo mais pra isso, tentando corrigir um erro. Parte de nós não aceitarmos migalhas pra fazer certos trabalhos artísticos, aí você é valorizado: você tem que se valorizar primeiro pra ser valorizado. Eu procuro incentivar também as pessoas que estão começando agora, não vender o trabalho a preço de banana, e também tentar levar outras pessoas, quando dá sempre abre espaço pra outras pessoas terem participação junto comigo, da aldeia, eu devo a esse povo isso. Ser artista indígena é descontruir um modelo antigo de modos, implantados pela sociedade. É lutar contra exploração, é a defesa de um povo, e empoderamento! É lutar pela salva guarda dos povos Indígenas costumes, tradições e modos. É quebrar tabus!”
Fotos: Acervo dos artistas